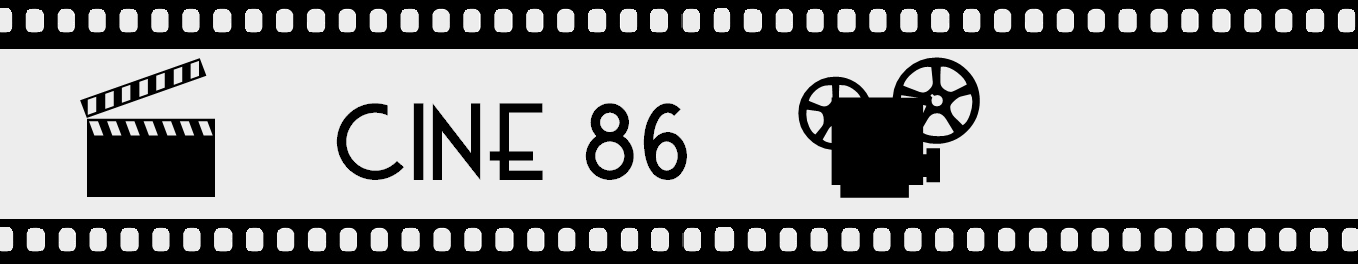|
| Direção: Marcia Paraiso, 2016. |
Lua em Sagitário é um filme que pode incomodar muita gente, mas não pelos mesmos motivos. Esse longa nacional conta a história de dois jovens que vivem na divisa de Santa Catarina com a Argentina, mais precisamente na região de Princesa, uma cidade do interior, pequena, onde todos se conhecem e não pega muito bem o sinal de celular e internet. Os jovens são Ana (Manuela Campagna) e Murilo (Fagundes Emanuel), que se conhecem na Caverna, um estabelecimento regido por um argentino amante de rock e com muita história para contar. A Carverna é um misto de lan house e sebo de discos e livros, um espaço que serve como refugio para os adolescentes, também amantes de rock. A história mescla entre um romance adolescente e um road movie, pois Ana e Murilo se apaixonam, e num certo momento resolvem viajar de moto de Princesa até Florianópolis, a fim de chegar ao evento musical Psicodália, que acontece no norte catarinense.
A direção do filme é de Marcia Paraiso, que tem em sua carreira alguns documentários contam com estado catarinense como plano de fundo, como o Terra Cabocla (2015), que aborda a Guerra do Contestado (1912 - 1916), e que há uma profunda ligação com Lua em Sagitário. No longa de 2016, o personagem de Murilo vive num assentamento do Movimento dos Trabalhores Rurais Sem Terra (MST), e frequenta a cidade de Princesa por conta da Caverna, e lá conhece Ana, por quem se apaixona. A Guerra do Contestado foi uma luta por terras, assim como a luta do MST atualmente (não apenas por isso, mas há ai uma ligação nos trabalhos da diretora).
Infelizmente o filme conta com vários problemas, e o principal deles é o elenco. Em muitos longas, às vezes um ator pode salvar um filme, mas aqui não há ninguém qualificado para isso. Campagna e Emanuel são atores jovens, que não tem muito o que nos oferecer ainda, e por várias vezes nos deixam com um ar de que estamos vendo algum capítulo de Malhação, porém, em uma ou duas cenas Campagna se destaca um pouco mais e nos encanta. O roteiro também poderia se aprofundar em muitos temas, mas acaba focando no romance dos dois (que talvez seja uma escolha da direção até), e mesmo assim há vários diálogos bobos e desnecessários, mais uma vez dignos de Malhação. O filme conta também com Jean Pierre Noher no papel de LP, o dono da Caverna, que cumpre muito bem o seu papel de roqueiro old school e mentor dos jovens. Há também a participação de Serguei e Elke Maravilha - esta em seu último papel na carreira.
A trilha sonora de Lua em Sagitário pode incomodar também. Parece que pegaram uma playlist de músicas nacionais indie-hipster e um pouco de rock argentino, como O Teatro Mágico, Mallu Magalhães, A Banda Mais Bonita da Cidade, Tulipa Ruiz e El Mato A Un Policia Motorizado. No fim das contas, algumas músicas acabam casando bem com as cenas, como a Canção da Terra do Teatro Mágico, que toca quando estão num assentamento do MST (O latifundío é feito um inço que precisa acabar, romper as cercas da ignorância que produz a intolerância, terra é de quem plantar), e Só Sei Dançar Com Você da Tulipa Ruiz, que toca quando estão transando (Só sei dançar com você, isso é o que o amor faz).
Mas o que mais pode incomodar as pessoas é a mensagem que o filme traz. Princesa é uma cidade pequena, na qual a maioria das pessoas é religiosa, todos se conhecem, e perto dela há um assentamento do MST, onde existem várias famílias que trabalham em conjunto, plantam, produzem artesanato, estudam e se divertem como qualquer pessoa, e vendem seus produtos para regiões próximas. A família de Ana possui um pequeno comércio em Princesa, pelo qual batalhou muito para conseguir, e o patriarca compartilha a opinião de muitas pessoas no Brasil: MST é tudo vagabundo que vivem as custas do governo, não querem saber de trabalhar. O longa não mostra muito do convívio no assentamento, porque não é o foco, mas do pouco que mostra também não romantiza o MST, apenas nos faz ver que são pessoas como todos nós, que trabalham para sobreviver mas de modo diferente, e que não comem criancinhas. Além disso, o filme conta com alguns diálogos sobre a classe média brasileira que se acha elite a vomita o preconceito que a elite tem com os pobres, e isso incomoda muita gente.
Lua em Sagitário tem um nome que não precisava (só na última cena nos é revelado o porquê do título, mas não convence muito), e pode incomodar muita gente, ou pelo elenco, ou pela trilha sonora, ou pela mensagem crítica. É também um filme que poderia ser muito mais do que foi, se tivesse um orçamento maior e não um apelo ao público adolescente. Ainda assim, é importante haver longas com uma reflexão social e que tente conversar com os jovens.
A direção do filme é de Marcia Paraiso, que tem em sua carreira alguns documentários contam com estado catarinense como plano de fundo, como o Terra Cabocla (2015), que aborda a Guerra do Contestado (1912 - 1916), e que há uma profunda ligação com Lua em Sagitário. No longa de 2016, o personagem de Murilo vive num assentamento do Movimento dos Trabalhores Rurais Sem Terra (MST), e frequenta a cidade de Princesa por conta da Caverna, e lá conhece Ana, por quem se apaixona. A Guerra do Contestado foi uma luta por terras, assim como a luta do MST atualmente (não apenas por isso, mas há ai uma ligação nos trabalhos da diretora).
Infelizmente o filme conta com vários problemas, e o principal deles é o elenco. Em muitos longas, às vezes um ator pode salvar um filme, mas aqui não há ninguém qualificado para isso. Campagna e Emanuel são atores jovens, que não tem muito o que nos oferecer ainda, e por várias vezes nos deixam com um ar de que estamos vendo algum capítulo de Malhação, porém, em uma ou duas cenas Campagna se destaca um pouco mais e nos encanta. O roteiro também poderia se aprofundar em muitos temas, mas acaba focando no romance dos dois (que talvez seja uma escolha da direção até), e mesmo assim há vários diálogos bobos e desnecessários, mais uma vez dignos de Malhação. O filme conta também com Jean Pierre Noher no papel de LP, o dono da Caverna, que cumpre muito bem o seu papel de roqueiro old school e mentor dos jovens. Há também a participação de Serguei e Elke Maravilha - esta em seu último papel na carreira.
A trilha sonora de Lua em Sagitário pode incomodar também. Parece que pegaram uma playlist de músicas nacionais indie-hipster e um pouco de rock argentino, como O Teatro Mágico, Mallu Magalhães, A Banda Mais Bonita da Cidade, Tulipa Ruiz e El Mato A Un Policia Motorizado. No fim das contas, algumas músicas acabam casando bem com as cenas, como a Canção da Terra do Teatro Mágico, que toca quando estão num assentamento do MST (O latifundío é feito um inço que precisa acabar, romper as cercas da ignorância que produz a intolerância, terra é de quem plantar), e Só Sei Dançar Com Você da Tulipa Ruiz, que toca quando estão transando (Só sei dançar com você, isso é o que o amor faz).
Mas o que mais pode incomodar as pessoas é a mensagem que o filme traz. Princesa é uma cidade pequena, na qual a maioria das pessoas é religiosa, todos se conhecem, e perto dela há um assentamento do MST, onde existem várias famílias que trabalham em conjunto, plantam, produzem artesanato, estudam e se divertem como qualquer pessoa, e vendem seus produtos para regiões próximas. A família de Ana possui um pequeno comércio em Princesa, pelo qual batalhou muito para conseguir, e o patriarca compartilha a opinião de muitas pessoas no Brasil: MST é tudo vagabundo que vivem as custas do governo, não querem saber de trabalhar. O longa não mostra muito do convívio no assentamento, porque não é o foco, mas do pouco que mostra também não romantiza o MST, apenas nos faz ver que são pessoas como todos nós, que trabalham para sobreviver mas de modo diferente, e que não comem criancinhas. Além disso, o filme conta com alguns diálogos sobre a classe média brasileira que se acha elite a vomita o preconceito que a elite tem com os pobres, e isso incomoda muita gente.
Lua em Sagitário tem um nome que não precisava (só na última cena nos é revelado o porquê do título, mas não convence muito), e pode incomodar muita gente, ou pelo elenco, ou pela trilha sonora, ou pela mensagem crítica. É também um filme que poderia ser muito mais do que foi, se tivesse um orçamento maior e não um apelo ao público adolescente. Ainda assim, é importante haver longas com uma reflexão social e que tente conversar com os jovens.